Olhando o tempo, nas suas variadas concepções, pois é elaboração subjectiva em Santo Agostinho, apreensão empírica em David Hume e intuição pura do espírito em Immanuel Kant, é no vínculo, feito, desfeito ou refeito, entre o que foi, o que é e o que será o mundo e nós nele que o novo se anuncia, se desvela, se afirma, e se joga, num jogo interminável em que aparece, desaparece e reaparece com os seus rostos de luz e as suas máscaras de sombra.
Assim, o novo é, ou pode ser, claro e confuso, patente e latente, verdadeiro e falso, real e virtual, potencial e actual, bom e mau, positivo e negativo, existente e utópico, feio e belo, previsto e imprevisível, individual e colectivo, natural e artificial, sendo, às vezes, algumas destas coisas, ou a sua intersecção, ao mesmo tempo. O novo é, ou pode ser, criação, descoberta, invenção, recuperação, recusa, desvio, promessa, ameaça, tendência, repetição (eterno retorno). É, ou pode ser, sujeito e objecto, forma e conteúdo, tema e técnica, método e estilo. É, ou pode ser, início e fim (a morte é para cada vida que nela termina um novo absoluto), proximidade e distância, aura e vestígio, pensamento e sentimento. Por isso se diz que o novo não é, em si e por si, um valor.
A história do novo encontra, a cada passo, a história da filosofia e da teologia, da arte e da ciência, da literatura e do cinema, da política e da comunicação, da ideologia e da tecnologia, da antropologia e da cosmologia, da psicologia e da sociologia, da propaganda e da publicidade, da arquitectura e do design, do teatro e da moda, do desporto e da música, do corpo e da mente, das sensações e do erotismo, da natureza e do clima.
Algumas vezes, chama-se novo ao velho (ou ao antigo) para disfarçar o seu arcaísmo e a sua caducidade. Outras vezes, chama-se velho (ou obsoleto) ao novo para diminuir o seu perigo, descredibilizar a sua esperança e desvalorizar o seu impulso criador e subversivo.
Ao novo, juntam-se também palavras que lhe dão apoio, sequência, eco e sintonia. Essas palavras são: novidade, inovação, renovação. E descontinuidade, originalidade, modernidade, contemporaneidade.
Provindo do grego, «neo» passou a ser o prefixo de palavras que se sucederam e multiplicaram, nos nossos dias saturados e perplexos, para dizer a reiteração, a reivindicação ou a reapropriação de ideias, conceitos, escolas, correntes, acontecimentos do passado. Alguns exemplos: neoconservadorismo, neoliberalismo, neobarroco, neofigurativo, neofascismo, neopaganismo, neocolonial, neovanguarda, neokeynesiano.
Somando a neo uma lista crescente de outros prefixos, como pós, hiper, ultra ou trans, há quem veja, nesse exercício genealógico de classificação, a má consciência obsessiva da nossa época pelo novo e a sua incapacidade de se criar a si mesma e de se definir sem o recurso a palavras antes codificadas e sem a referência a épocas passadas. Já se disse que o nosso é um tempo em segunda mão. George Steiner afirma logo no começo das Gramáticas da Criação: «Já não temos começos.»
Michel Foucault fez da interrogação sobre a novidade um barco que percorre o mar profundo e largo da sua obra, ligando-a à episteme, entendida como o conjunto das relações que unem, num dado período histórico, as práticas discursivas que geram figuras epistemológicas, permitindo a criação de novos discursos e de novos conhecimentos.
Na sua obra As Palavras e as Coisas, questiona: «Que quer dizer inaugurar um pensamento novo?» E prossegue:
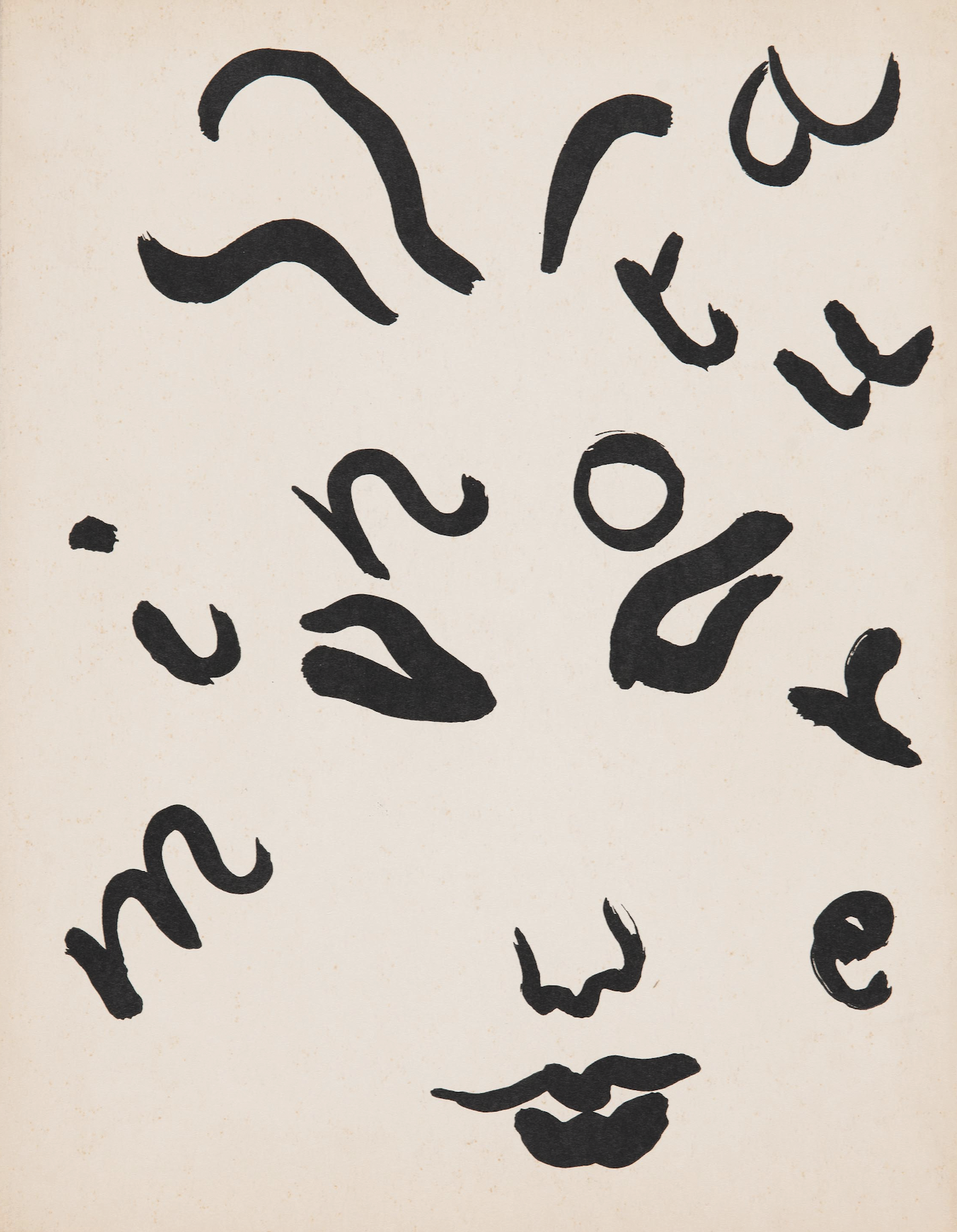

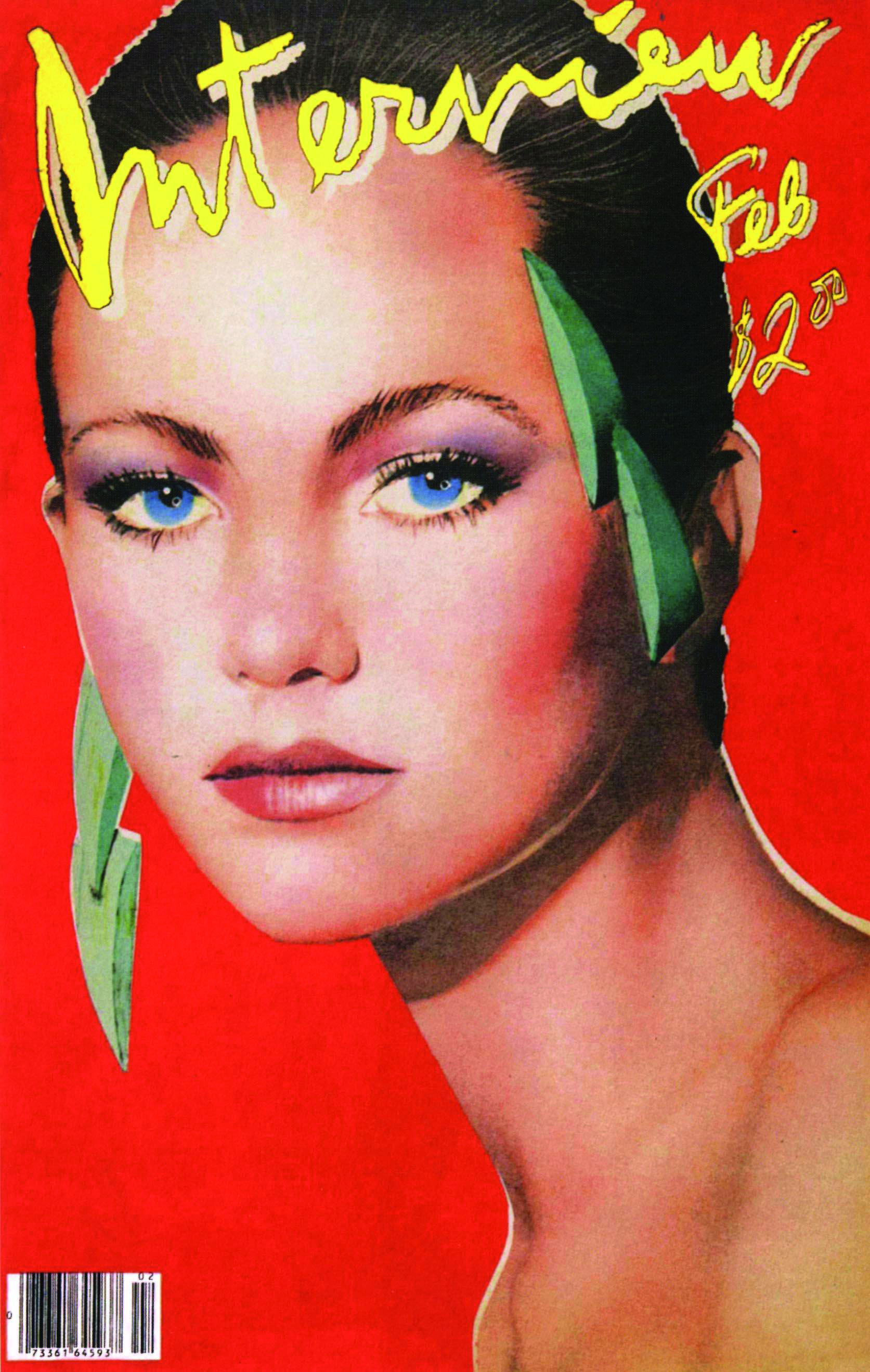
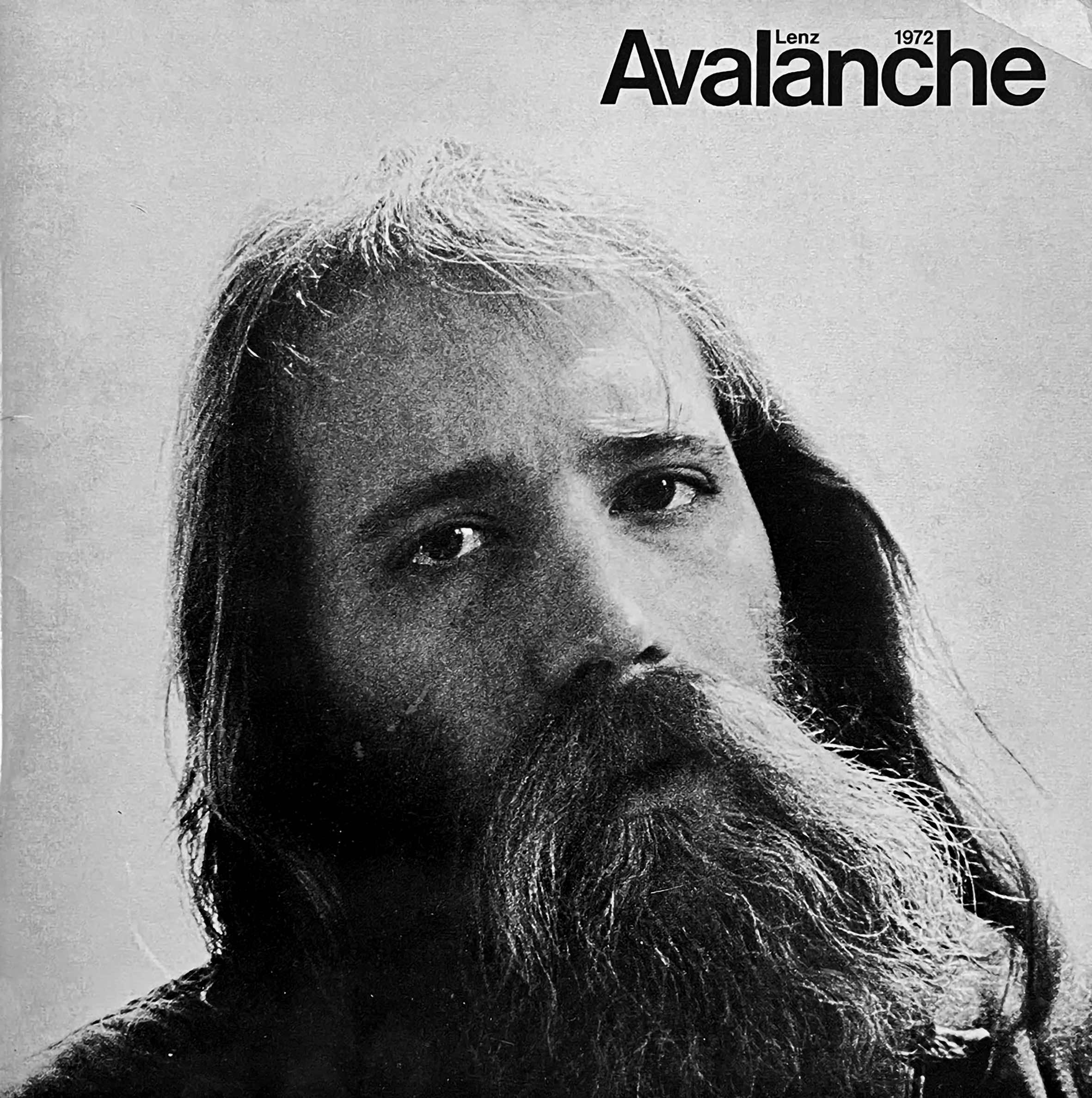

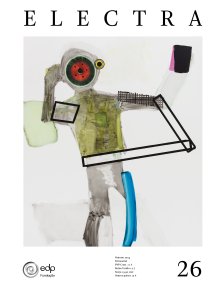




Partilhar artigo